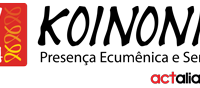Clarisse Braga
“O meu amor está vivo. E eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Eu quero enterrar meu filho. Não pude arrumar seu corpo, vestindo nele a roupa que ele mais gostava, penteando seus cabelos, maquiando suas feridas. Eu não pude arrumar seu corpo, num ritual de despedida. Mas eu quero devolver seu corpo à terra. Com orgulho de mãe. Com dignidade, só com a minha dor” – foi dessa maneira que a atriz da Cia. de Teatro do Parnaso desabafou sua angústia de mãe em luto por um filho morto, que ninguém viu.
.jpg)
A dor do adeus não concedido aos familiares das vítimas dos porões da ditadura foi tema central do Ato Ecumênico em Memória dos Mortos e Desaparecidos, que aconteceu no último dia 2 de novembro – Dia de Finados – no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. O local escolhido carrega um significado especial àqueles que de alguma forma sofreram as consequências do regime militar brasileiro – sejam eles militantes, companheiros, familiares, ou amigos – pois lá se escondem corpos de presos políticos em covas razas e valas comuns, aquelas utilizadas para despejar indigentes desconhecidos.
Em nome da lembrança dos crimes ocorridos durante a repressão; da busca pela verdade sobre o paradeiro de desaparecidos políticos; e da procura pela justiça e punição dos algozes da ditadura, o ato em memória das vítimas foi organizado pela Comissão da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo, Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, CLAI – Conselho Latino-americano de Igrejas, Conic – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e KOINONIA – Presença Ecumênica e Serviço.
Obviamente, o ato foi permeado por uma finalidade política, que era a de manter as denúncias sobre os crimes da ditadura. Entretanto, para Anivaldo Padilha – que foi preso, torturado e exilado durante o regime militar, associado de KOINONIA e um dos organizadores do evento – o objetivo principal foi homenagear os mortos e desaparecidos da ditadura. “O ato aconteceu bem ao lado das valas comuns e temos evidencias de haver corpos de presos políticos, que foram sepultados à revelia da família pela ditadura, negando aos familiares o direito milenar de sepultar seus entes queridos”, afirma Anivaldo. “Somado à mobilização para não deixar morrer as lembranças das atrocidades cometidas pelos militares, encontra-se a vontade de dar continuidade ao trabalho ecumênico, tão forte na época da ditadura. Através do planejamento do ato, “conseguimos retomar alguns tipos de ações que sempre fizemos com o trabalho ecumênico, como a defesa dos direitos humanos; por isso, surgiu a ideia de transformá-lo em um ato anual”, finaliza Anivaldo.
Entre os presentes, encontravam-se amigos e parentes, unidos por um único objetivo: trazer conforto espiritual à quem não foi permitido durante décadas. Ao microfone, muitos deles deram seus depoimentos e entre eles estava Gregório Gomes da Silva, filho do operário químico nordestino e dirigente sindical Virgílio Gomes da Silva. Virgílio foi preso no dia 29 de setembro de 1969 e foi torturado por 12 horas seguidas; sua mulher também foi presa e torturada, e seus filhos foram entregues ao Juizado de Menores.
O corpo de Virgílio foi jogado na vala comum do Cemitério da Vila Formosa. “Estamos todos hoje aqui, vivos e rendendo homenagens aos nossos mortos, nossos desaparecidos. Muitos estão provavelmente nesse mesmo solo duro em que agora pisamos. E nele também está meu pai e os pais de vários companheiros, que alimenta o caráter e a forma de agir das novas gerações”, declara Gregório.
Atuante na Comissão Estadual da Verdade, Amelinha Teles prestou sua homenagem aos companheiros e companheiras que perderam a vida lutando pela liberdade:“Eu queria lembrar do Virgílio Gomes da Silva, companheiro desaparecido em 1969; do jovem Joelson Crispin, desaparecido em 1970; do Antônio Raimundo Lucena, o pai da família Lucena, cujos restos mortais foram jogados aqui pela repressão; José Maria Ferreira Araújo, o “Aribóia”, que também foi enterrado aqui; Antônio dos Três Reis de Oliveira e Alceri Gomes Silva, operária metalúrgica do Rio Grande do Sul, que veio a São Paulo lutar contra a ditadura e que também foi assassinada”.
No entanto, não só do passado de mais de 30 anos atrás que o ato ecumênico tratou, mas também do passado de ontem, de ante-ontem, da semana passada. “Queremos trazer a homenagem aos familiares e amigos dos companheiros torturados e mortos nas prisões militares, e lembrar que as vítimas da violência do passado cometida pelo Estado continuam hoje na figura de jovens negros, da periferia”, recorda Amelinha.
O genocídio urbano que hoje acomete as periferias da cidade paulistana foi mais de uma vez mencionado durante o ato. Vicente perdeu dois amigos nesse genocídio. Eles foram mortos pela Polícia Militar, pela “herança da ditadura militar” – como afirma Anivaldo Padilha – que mais persiste nos tempos atuais. Na verdade, Vicente não é seu nome verdadeiro. Um pseudônimo e uma bandeira vermelha foram utilizadas para esconder esse estudante cansado de ver essa cegueira social alastrar-se por São Paulo. Com uma carta numa mão e um microfone na outra, Vicente desabafou:
Venho falar em nome daqueles que violentamente perderam a voz, gritar pelas mães apavoradas que agora encontram seus filhos em caixões, que perderam sonhos por interesse e ganância de um Estado terrorista. Juntamente com outros companheiros, em um momento em que se calar tornaria-nos conivente com o atual estado de sítio que está instalado em São Paulo, criamos um grupo chamado Mobilização contra o genocídio na periferia. O grupo foi criado após a morte de um amigo em comum entre nós, chamado Pedro, no dia 14 de outubro. Pedro foi morto covardemente num domingo a tarde, junto com o Mc do Rosana Bronks, Daniel Gabu, que estavam em um movimentado bar no Alto do Umuarama, conhecido por seu fliperama que agita jovens a se desafiarem com os jogos. Em nome dos moradores da Zona Sul, das famílias dos vitimados e de todos que estão na luta contra o extermínio, apoiamos os atos em nome dos mortos recentes de mais uma política anti-popular. Em nome de Paulo Henrique, Pedro, Gabu, Chambão e outros tantos, a periferia pede paz e pede para ser, antes de tudo, ouvida como merece.
Ex-militantes, ex-presos políticos, ex-esposas, filhos e filhas buscavam na memória lembranças dos velhos companheiros de luta e de cela, enquanto os jovens presentes recordavam de livros sobre a ditadura, de cenas de tortura figurada por atores em algum filme qualquer, de histórias semelhantes. “Nos poucos momentos em que eu pude olhar para as pessoas que estavam lá, eu percebi a emoção por meio de lágrimas, não só dos companheiros antigos, mas também dos jovens que choravam. Os crimes da ditadura não foi algo que afetou somente aqueles que viveram essa experiência”, compartilha Anivaldo. Seja qual fosse a idade, durante um ato em memória das vidas perdidas pela repressão que acometeu o país no período de 1964-1985, as lembranças bateram à mente de cada um de maneira emocionante e impactante.
"A primeira lembrança que veio ao meu coração foi uma história contada pelo meu pai: ele participou da primeira greve dos metalúrgicos do Brasil em que as avenidas estavam tomadas de trabalhadores e cercados pela presença do exército que tinha carros com portas abertas e soldados portando metralhadoras. A salvação deles foi chegar à Catedral Diocesana de Santo André, onde o Dom Claudio Hummes os acolheu. Até o fim de sua vida, meu pai dizia que se não tivesse sido por isso, eles teriam sido massacrados". – Nello Pulcinelli
"Veio-me à lembrança as pessoas nessa vala comum. Da tristeza das famílias de não poder ver seus entes queridos. A morte em si já é triste e ainda nessa situação de não poder saber onde estão seus corpos, que foram abandonados sem aquele carinho da mãe e do pai”. – Vera Lúcia de Castro
"Não queria falar chavão. Eu não aguento mais os companheiros do passado. É forte, é demais. O passado sempre volta cutucado pelo presente. – Celeste Marcondes
"Eu lembrei o quanto um ser humano é capaz de ser cruel com outro simplesmente por não concordar com suas ideologias, seus ideais, com a sua forma de pensar. – Ester Lisboa
O que veio mesmo foi a lembrança de meus amigos e meus companheiros mortos: Paulo Wright, Eleni Guariba, Celso Cardoso da Silva e Fernando Cardoso da Silva. Esses foram os que vieram rapidinho em minha memória. – Anivaldo Padilha
Lideranças religiosas de diferentes denominações fizeram do ato ecumênico um ambiente de fé e esperança, provando que aquela fama de que “comunista é ateu” não passava de mero boato da direita. Um diálogo intrigante entre uma mãe em busca do paradeiro de seu filho militante e um padre responsável pelo aconselhamento dos prisioneiros da Base Aérea do Galeão – que se passa no filme “Zuzu Angel” – ilustra muito bem essa falácia sobre a fé religiosa dos presos políticos e o envolvimento das igrejas durante o regime militar.
Desesperada devido a falta de informação em relação à prisão do seu filho Stuart Angel Jones, Zuzu pede ajuda à um padre que lhe responde: “infelizmente, os presos são todos ateus”. Mas para essa mãe, assim como para todas as outras, seu filho tem um coração bom.
“Fique tranquila, minha filha, o que falam das prisões é propaganda comunista; as torturas são fraquinhas, o choque é levinho, coisa à toa”, conforta o padre do filme, baseado em fatos reais.
Zuzu virou o símbolo da guerra que mães, esposas, filhos(as) e amigos(as) travavam em busca de seus entes queridos e perdidos nas celas da ditadura. Ela aproveitou de sua fama e influência para denunciar as atrocidades cometidas pelos militares; mas sua voz foi silenciada de forma drástica, por um acidente de carro. No entanto, dias antes de seu acidente, Zuzu entregou a Chico Buarque de Hollanda um documento que deveria ser publicado caso algo lhe acontecesse. Nele, ela escreveu: "Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho". Chico fez o que lhe era possível, mas ninguém a publicou. Então ele e todos os presentes na Vila Formosa cantaram: “Quem é essa mulher, que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar” (trecho da música Angélica, composta por Chico Buarque e Miltinho, cantada na ocasião por Xico Esvael).
Na última vez que Anivaldo falou ao microfone foi para mostrar que os horrores vividos dentro das grades da repressão foram derrotados por forças movidas pela fé, solidariedade e lealdade a uma causa maior que todos eles. Por fim, ele diz:
“Eu gostaria de falar sobre a prisão não como um lugar de morte somente e nem como um lugar em que a ditadura acreditava nos ter derrotado; mas gostaria de falar da prisão como uma frente de luta. Um lugar onde a resistência era necessária e onde a resistência aconteceu. E essa resistência acontecia de várias formas. Na prisão, eu conheci o lado mais sombrio do ser humano, o momento em que o mal que existe no ser humano se instalou de forma plena e absoluta na figura dos torturadores. No entanto, ao mesmo tempo, eu conheci – e vários companheiros aqui também conheceram – o lado mais sublime do ser humano, que é a solidariedade, o amor ao próximo, a doação e a entrega total de nossas vidas por uma causa que era muito maior que nós mesmos. Em vários momentos, tínhamos que expressar isso de forma concreta na solidariedade com nossos companheiros. E havia várias formas de fazer isso e uma delas era quando um companheiro ou uma companheira era chamado para outro interrogatório, para a tortura, todos nós cantávamos:
“Minha jangada vai sair pro mar,
Vou trabalhar, meu bem querer
Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom eu vou trazer
Meus companheiros também vão voltar
E a Deus do céu vamos agradecer’”.